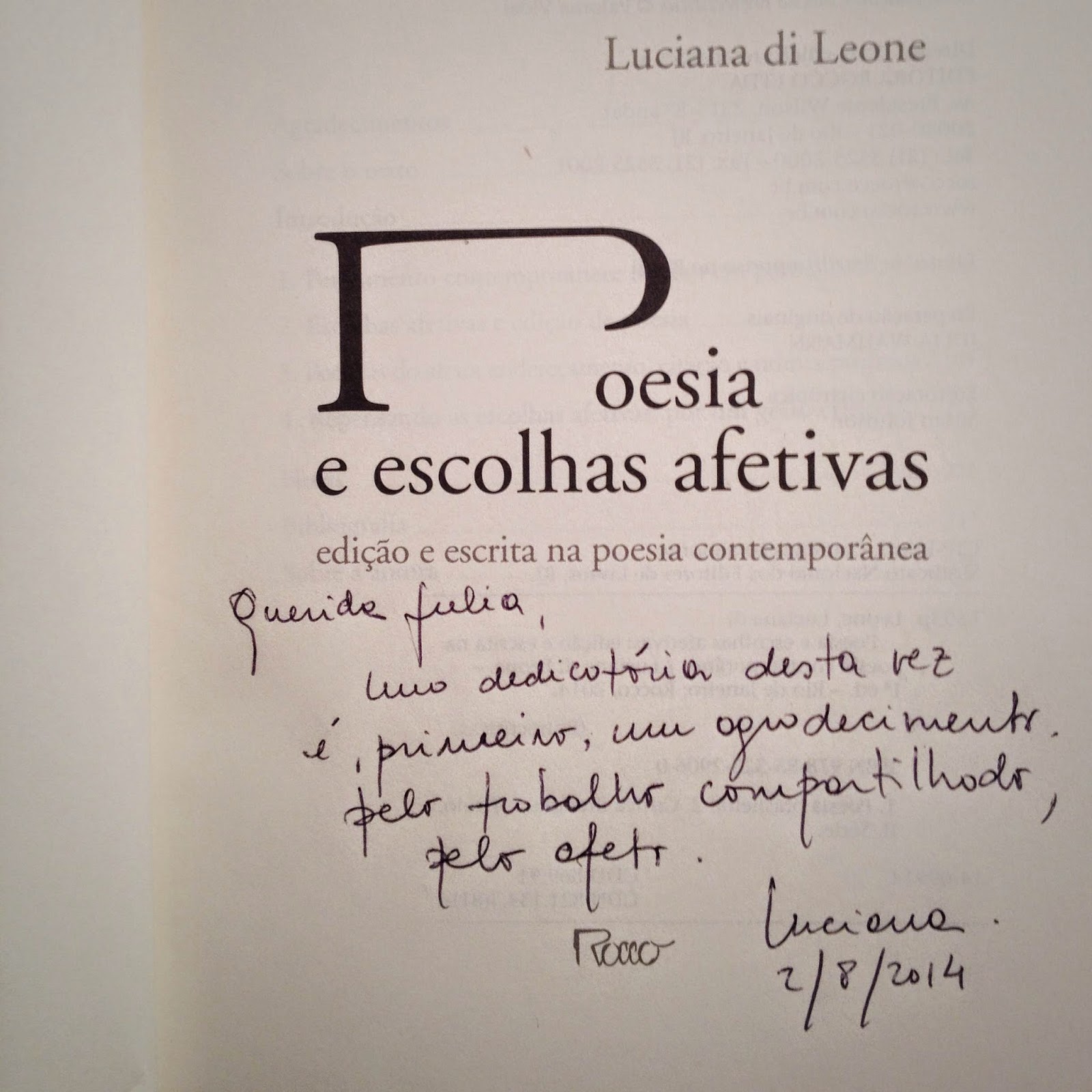Era novembro e eu estava num lugar remoto e
molhado na Alemanha quando recebi um email da Paula perguntando quem queria ver
uma peça do Bob Wilson na semana seguinte. Àquela altura das férias, com 31
anos de escoliose nas costas, qualquer perspectiva de ficar sentada por mais de
uma hora era um alento. Viajar é um elixir da juventude: você anda o que não
caminharia uma vida inteira, é capaz de arrastar malas pesadas por estações de
trem em língua estrangeira e qualquer incompreensão faz parecer que o mundo é
um lugar apaixonante – mesmo que o seu quadril sofra dores semelhantes às de
uma agulha repetidamente espetada num boneco de vodu que tenha a sua cara.
Eu vinha de uma apresentação do Nederlands Dans
Theater em Haia, num programa irregular belamente encerrado com Gods and dogs, uma coreografia hipnotizante
de Jiří Kylián. De lá rumei para Wuppertal, onde em meio
a lágrimas irrepresáveis assisti Nelken
e Wiesenland, ambas peças de Pina
Bausch, a segunda com direito a esbarrão em Dominique Mercy à saída da
Opernhaus. Pelos meus cálculos eu só viveria algo próximo disso outra vez se a
própria Pina reencarnasse e dançasse Café
Müller no Theatro Municipal do Rio. Pelos meus cálculos, portanto, eu
estava praticamente liberada do meu papel de plateia pelo tempo que durasse
esta vida. Por outro lado, se esta vida melhorava a cada entrada num teatro
europeu, a chance de que no penúltimo dia antes de voltar pra casa eu fosse
fulminada por alguma coisa não me fez hesitar. E era o Bob Wilson. Em Paris. No Louvre. Com
a Paula e mais 2. E sem baldeação no metrô.
Lá fomos nós, então, pirâmide adentro numa noite
que prometia mágica, nunca sono. No centro de um palco azul, tomado por
cartazes com palavras e pedaços de frases, estava Bob Wilson, de branco, com
uma maquiagem carregada que deixava seu rosto tão engessado quanto o ritmo da
peça. Sentado a uma mesa ele monologava A lecture on nothing, de John Cage: “More and more I have the
feeling that we are getting nowhere. Slowly, as the talk goes on, we are
getting nowhere, and that is a pleasure.” O trecho era repetido em looping, em nuances que
iam do enfado à exasperação, quando Wilson gritava e despertava risadas
nervosas na plateia, possivelmente num reconhecimento de sua própria angústia. Eu
mesma procurava o sinal luminoso da saída de emergência, uma que de preferência
me levasse diretamente ao encontro de alguém que pudesse me explicar todo o
entusiasmo do mundo em torno do diretor, porque naquele momento eu me sentia,
sobretudo, burra. Porque se alguém estava achando tudo aquilo chatérrimo, era
essa a única explicação possível: burrice crônica.
Mais burra ainda, calculei, quando fiz o caminho
até a Barra da Tijuca para ver The old
woman, no fim de semana. Eu gosto de dança, pensei, não de toda essa
exatidão de luz e sons. Gosto da respiração e dos baques dos corpos, do peso e
dos improvisos de quando os pés se desencontram. Gosto dos esbarrões. E ali
naquele palco de Bob Wilson, me parecia, nada disso cabia. Mas era o Bob
Wilson. No Rio. Na Cidade das Artes. Com o Marcelo e mais quantos? E com o
Willem Dafoe e o Baryshnikov.
Lá fomos nós, naquele monumento de concreto e
vento, numa noite que prometia tédio, e tudo ia bem com a coluna e o quadril,
eu poderia até recusar ficar sentada. Em todos os cantos de um palco que exibia
cores desconhecidas, o que vi tinha tudo daquilo que eu já tinha visto: uma
precisão desconcertante de luz, palavra, música. Mas era absolutamente outra
coisa, apesar de ser quase a mesma. “This is how hunger begins”: uma comédia
com tintas de palhaçaria, melancolias e um nonsense pontuado por estalos, gestos
marcados e tão sincronizados que é difícil acreditar que Dafoe e Baryshnikov
façam outra coisa que não passar o tempo juntos, se aprendendo. Também existe
ali a possibilidade de uma narrativa, mas seu roteiro é constantemente torcido,
te desviando para lugares opostos - ora incômodos, ora familiares - sempre
absurdos.
Como da primeira vez, não falta chatice a The old woman, tampouco histrionice ou
repetição. Falas são executadas como um mantra, à saída do teatro decoramos
trechos. Em seu Exercises de style,
Raymond Queneau escreve a mesma história 108 vezes. É cansativo como as
repetições de Wilson, até quando se gosta delas, até quando as escolhas cênicas
e inflexões, como as palavras e ritmos de Queneau, transformam o que está sendo
dito. É aquela máxima levada à exaustão na prática: haverá tantas histórias
para se contar quanto existam leitores para ler, e tantos palcos para desvendar
quanto cadeiras numeradas na plateia.
Perseguir Wuppertal é a minha ambição, e não
apenas no que ali havia de deslumbramento, mas no que havia de viver uma
experiência em que se é tragado para um universo do qual se torna difícil sair.
Ainda que fosse insuportável, a Leitura
sobre o nada de Wilson me fisgou de forma tão absoluta que ficou marcada.
Dificilmente vou esquecer aquela noite, e quando me lembrar ou falar dela
sentirei todo o incômodo físico, me contorcerei na cadeira em que estiver sentada,
elevarei a voz e farei caretas. Quando conversar com alguém sobre A velha, tudo voltará pro corpo de outra
forma: sorriso, mãos que tentam desenhar movimentos de luzes e toda uma mímica
do gostar, com uma breve interrupção, talvez até bufe para concluir que, apesar
de tudo, tem uma ameaça de de repente tudo se tornar chato de aturar.
Perseguir
essa desmedida das coisas, nem tanto pela perspectiva do aplauso ou do choro,
mais por habitar durante algumas horas esse mundo instável e tão vivo, esses
mundos efêmeros aos quais queremos nos agarrar. Em alguns casos funciona. E
então começa a fome.