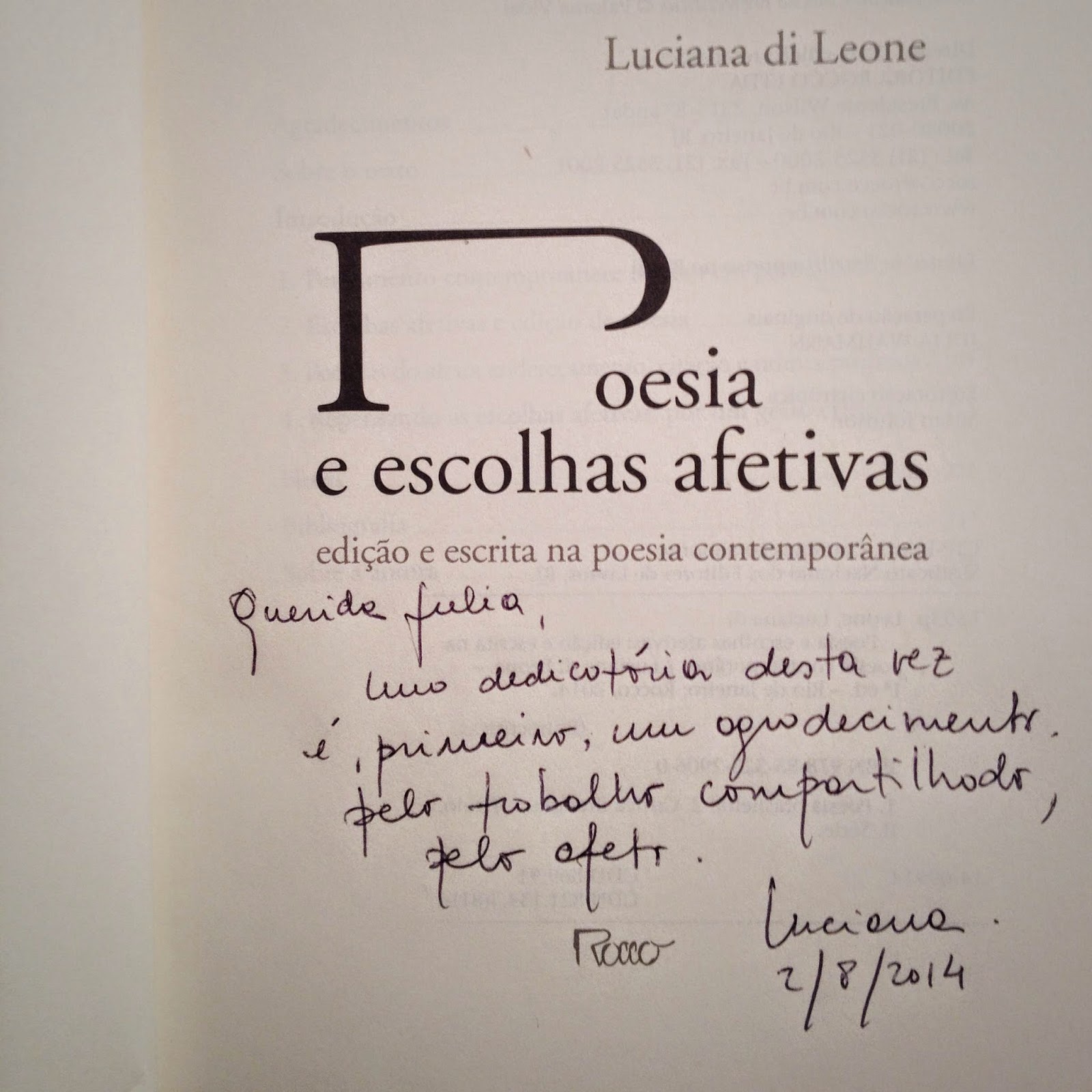Era maio de 2001 quando li Alta fidelidade pela primeira vez: eu tinha 18 anos e estava em
Oxford por dois meses. Reli o livro outra vez há 5 anos, numa época em
que eu era xiita demais e não acumulava pilhas de títulos não lidos, e portanto
reler coisas era uma realidade. Era um tempo também em que eu tinha critérios
suficientes para não deixar livros pela metade: eu acreditava muito em autores
e tinha um otimismo genuíno em tudo o que eles tivessem para escrever, da
primeira à última página, mesmo que as histórias desandassem e os personagens
idem. Eu ia até o fim, era o meu dever. De lá para cá vi surgir uma nova
categoria nas minhas estantes, uma espécie de necrotério que abrange suicídios,
abortos e toda sorte de crimes literários, sem nem bem saber quem é o culpado.
Fato é que mudanças implicam exumações, e algo muito mais complexo que é
enfileirar lombadas e agrupar os livros – os sobreviventes – outra vez.
Mas antes disso: as estantes. Estava no jornal essa semana
a foto típica do autor em frente à sua biblioteca, e nela um Silviano Santiago
todo prosa sorria em primeiro plano. Às suas costas as estantes iguais às
minhas, possivelmente mais antigas, certamente mais eruditas, coalhadas de
letras, erguidas simetricamente em ângulos retos com o chão. Num extremo
oposto, estavam elas também numa oficina mecânica em Botafogo, exibindo óleos,
pastilhas de freios, fluidos e outros que tais automobilísticos em igual
equilíbrio. E ainda: na casa de um casal de amigos vizinhos que, num ato
desafiador à minha incapacidade, declararou com orgulho que não só havia montado
as estantes, mas também tinha pintado de vermelho o complexo de metais e
parafusos imponente que guarda um acervo invejável – talvez algo entre as
minhas posses e as de Silviano.
Os meus livros ficaram dias empilhados no chão da sala, em
montinhos desconexos que explicitavam a anarquia temporária advinda do frete,
enquanto todos os sábados, pelas manhãs, eu me agarrava a ferramentas e a uma
fé cega que me iludiu: as minhas estantes nunca ficarão retas. Entre palpites e
diagnósticos de gente tão leiga quanto eu (mas muito convincentes),
estabeleceu-se que as estantes vieram empenadas, e que o melhor seria
trocá-las, e eu não perdi tempo tentando convencer ninguém de que o melhor
mesmo seria jogá-las fora, de preferência em cima da cabeça do vendedor de
vassouras que nunca me deixa dormir aos domingos de manhã, quando estou
nitidamente derrotada, cansada e descrente de que um dia as minhas estantes
serão como aquelas de Silviano ou do casal vizinho – a nível técnico, jamais
intelectual.
Quando seu Severino, o porteiro, num veredicto de extrema
preguiça avaliou o cenário (“É melhor deixar assim mesmo.”), não tive dúvidas: era
hora de ocupar as estantes tal qual a gravidade as deixara: completamente
tortas. O que se provou bolinho, visto que tá tudo em pé e carregado com a
minha coleção nada ortodoxa. E então o real problema apareceu.
Em maio de 2001 eu achei lindo quando Rob Flemming (no
livro ele era Flemming, no filme ele era Gordon) disse para alguém que sua
discoteca estava catalogada em ordem autobiográfica. Em 2009 eu achei lindo de
novo. Ele poderia se lembrar de eventos de sua vida, dos foras mais doídos, das
traições mais estúpidas, das viagens mais longas e dos shows mais embriagantes
de sua existência ao percorrer seus vinis nas prateleiras. E então achei que eu
também poderia organizar as minhas memórias assim, e que bastaria um rasante
nas estantes para entender como passei do diário de Bridget Jones para o Grande
Sertão: Veredas. Mas me pareceu positivista demais. Então comecei a agrupar
os autores por uma espécie de linha afetiva que começava com os maiores
impactos literários que sofri. A linha ia perdendo potência até dar em outros
que, eventualmente, foram embora, dada a pouca importância que tiveram. Para
não parecer a festa da uva, separei nacionais de estrangeiros, prosa de poesia.
E aos poucos fui criando subdivisões e nichos que vieram dar nessa
encruzilhada.
Eu sei, todos já escreveram sobre o dilema das estantes,
assim como todos os colunistas escrevem sobre falta de assunto – exceto
Silviano, é claro – afinal, é de angústias que vivemos. O que fazer, então, com
Rimbaud? Ele entra na prateleira de poesia ou na turma dos franceses? Uma
antologia de artigos e ensaios de Alan Pauls deveria se juntar à ala de teoria
e crítica ou permanecer junto das edições de ficção da Cosac, ali no andar da
prosa latino-americana? As raras peças de teatro, que ainda não configuram uma
categoria em si, se juntam aos livros de dança para juntos formarem o canto das
artes cênicas? Mas o que fazer com as duas ou três peças de Pirandello que já
estavam ao lado do Calvino, anunciando um território italiano tímido? E aquele
casal que se separou e que antes ficava coladinho na até então bem resolvida
prateleira de poesia? 31 canções, do
Nick Hornby, fica junto com os ingleses ou vai pro rol dos livros de música? E
quando, por obra do destino, sobram 8 livros escritos em inglês que têm de se
apertar ao lado do César Aira? É um jogo de Tetris aparentemente sem solução e
enquanto alguns amigos são sensíveis à minha causa, outros me sugerem dar um
pulinho na Travessa pra ver como eles fazem, e com isso meus dias têm se
dividido entre compras na Amoedo e contemplações solitárias em livrarias
diversas.
O que está bem acertado, no fim das contas, é o andar dos
livros mortos: um abandono comum a temas díspares e autores que jamais se
encontrariam reúne sem constrangimento uma turma crescente e aparentemente
aleatória. Não ouso citar nomes, mas me parece que um ou outro está em paz com
suas estantes. Essa parte da biblioteca talvez seja, curiosamente, a mais
autobiográfica de todas: uma coletânea de desistências e julgamentos meus sobre
o mundo, tentativas bem sucedidas de deixar de fora o que eu quero que fique
fora. Os poucos momentos em que o leitor realmente têm controle são esses em
que abrevia seus desgostos, ergue uma cruz, encaminha para o sebo. Há
controvérsias, mas gosto de pensar assim enquanto, inutilmente, tiro da
caixinha de ferramentas a chave de boca, me alongo um pouco na posição do
cachorro invertido e inicio mais uma batalha perdida contra a física.